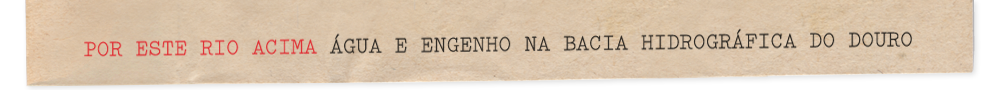 |
||||||||||
A água é um elemento da natureza que cumpre um papel fundamental na sustentabilidade e na reprodução da vida na Terra, integrando os ecossistemas naturais. Como recurso, é renovável, finito, irregular em termos de distribuição geográfica e sujeito a vulnerabilidades várias.
Como elementos primários essenciais à vida, os recursos hídricos foram adquirindo atributos adicionais, associados aos usos e procuras desenvolvidos pelo Homem ao longo da história. As sociedades foram aproveitando o recurso hídrico como hidráulico, numa diversidade de utilizações orientadas para o cumprimento das necessidades sociais. À dimensão ecológica foi acrescentada a social e, ainda, a económica, uma vez que o recurso hídrico assumiu igualmente a qualidade de factor de produção.
Como resultado da intervenção humana, o ciclo hidrológico tornou-se num sistema constituído pelo subsistema natural, pelo subsistema de infraestruturas hidráulicas (formado pelas obras hidráulicas que, necessariamente, têm impacto nos fluxos de água naturais) e pelo subsistema administrativo, do qual fazem parte as instituições entretanto criadas para regular e controlar os usos dos recursos hídricos.
O âmbito de actuação das instituições que têm a seu cargo a gestão deste sistema é o da bacia hidrográfica.
Sendo a água um recurso partilhado por diversos sectores de actividade, está sujeita a um regime complexo de utilização e de gestão. Até à década de 70, a gestão pública dos recursos hídricos em Portugal baseou-se numa estrutura centralizada e burocratizada, com responsabilidades de planeamento, projecto e execução de infraestruturas, apoiadas em programas de financiamento público, bem como de fiscalização e controle da utilização dos recursos hídricos. A actuação destas entidades caracteriza-se pelo especial enfoque dado às questões técnicas que envolvem os aproveitamentos hidráulicos.
Nas últimas décadas do século XX, assiste-se a uma mudança de paradigma institucional, pautado pela diversificação do número de entidades, públicas e privadas, chamadas a participar nos processos de decisão sobre as questões da água, pelo trabalho de inventariação das infraestruturas existentes e de análise de impactos, e por um quadro de valores no qual os contextos sócio-económicos e preocupações ambientais ganham particular destaque.
O Rio Douro, da foz até ao Douro Internacional, sempre foi um elemento de união das populações ribeirinhas. Em diversos pontos distribuídos ao longo das margens, articulados com as vias terrestres, uma ou mais barcas permitiam a passagem a pessoas, animais e carga. O funcionamento deste serviço estava sujeito a um conjunto de normas, que obrigavam a uma disponibilidade permanente do barqueiro, a uma tabela de preços fixada pelos proprietários ou arrendatários, e à observância de condições de segurança, quanto ao número de ocupantes por barca e à cota das àguas, entre outras.
Os aproveitamentos hidráulicos tornaram-se fundamentais para o desenvolvimento das actividades agrícolas, com particular destaque para a rega. São vários os tipos de estrutura construídos para a derivação de águas com fins agrícolas. Destacam-se aqui os regadios e os açudes hidroagrícolas, destinados à derivação de água para rega ou à criação de determinadas cotas de planos de água, facilitando a rega por gravidade.
As povoações ribeirinhas com funções portuárias dispunham de algumas estruturas de atracagem e de cais fluviais. Com a melhoria das condições de navegação ao longo do Douro, estas estruturas viram renovada a sua importância, exposta a sua condição precária ou reafirmada a necessidade de reconstrução, no caso dos cais que ficaram submersos com o enchimento das barragens entretanto edificadas.
A pesca fluvial era praticada enquanto actividade profissional ou tarefa pontual de recolecção de espécies pequenas, como as bogas, os barbos e os escalos, e de espécies sazonais, como o solho-rei, a lampreia, o sável e o esturjão.
Como apoio à actividade piscatória, existiam no Douro muitas pesqueiras, caneiros e nasseiros, concentrados de Entre-os-Rios até Porto de Rei e, para montante, na área da Região Demarcada. Grande parte destas estruturas foi derrubada ou ficou submersa nas albufeiras dos aproveitamentos hidroeléctricos.
No leito e nas margens, foram também construídas outras estruturas, como canais de pesca e poços.
A largura do Douro, os seus caudais e a insuficiência de meios técnicos impediu durante muitos séculos a construção de pontes sobre o Douro. Se bem que podemos encontrar vestígios de uma ponte do período românico junto a Barqueiros, a construção de estruturas de ligação mais seguras e duradouras entre as suas margens só terá ocorrido a partir do século XIX. No entanto, alguns dos seus afluentes, como o Tâmega e o Águeda, foram dotadas de pontes desde o período romano, modificadas e utilizadas ao longo dos tempos. Sobre canais e rios, foram igualmente construídos pontões para fins agrícolas ou passagem pública.
Os aproveitamentos hidráulicos tornaram-se fundamentais para o desenvolvimento das actividades agrícolas, com particular destaque para a rega. São vários os tipos de estrutura construídos para a derivação de águas com fins agrícolas. Destacam-se aqui os regadios e os açudes hidroagrícolas, destinados à derivação de água para rega ou à criação de determinadas cotas de planos de água, facilitando a rega por gravidade.
 |
 |
 |
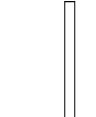 |
 |
||
 |
 |
 |
 |
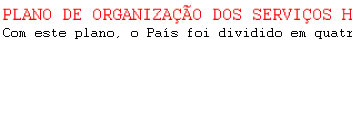 |
 |
|
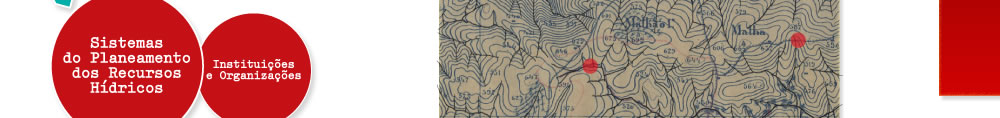 |
 |
 |
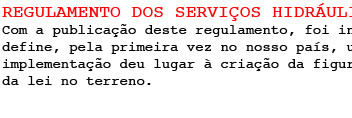 |
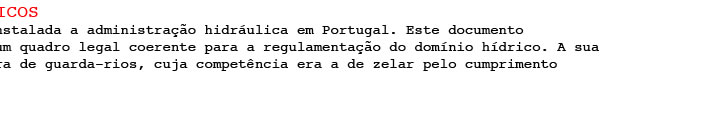 |
||
 |
 |
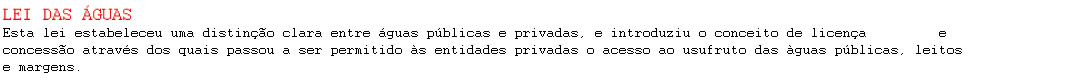 |
||||
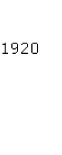 |
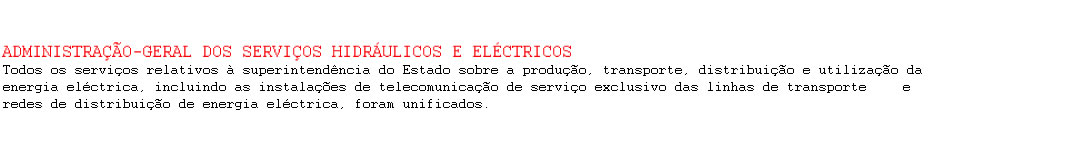 |
|||||
 |
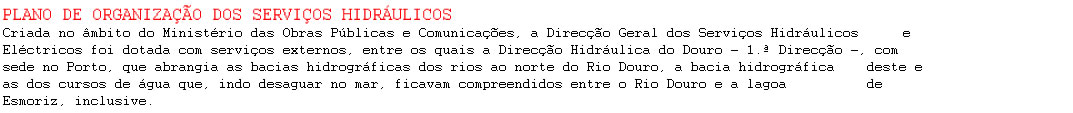 |
|||||
 |
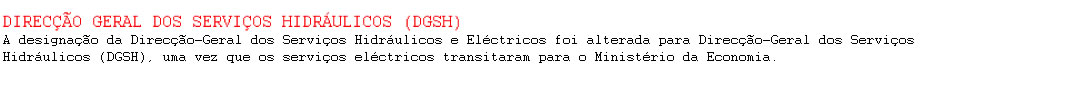 |
|||||
 |
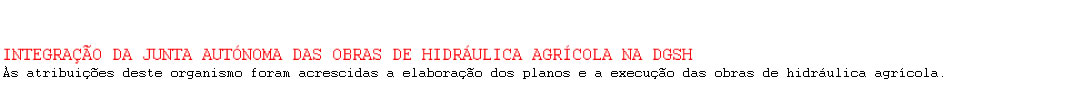 |
|||||
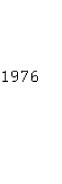 |
 |
|||||
 |
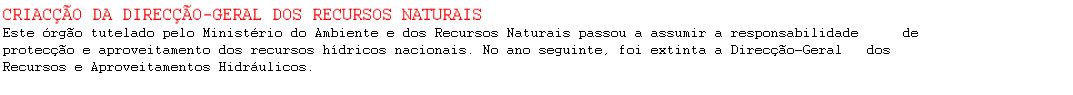 |
|||||
 |
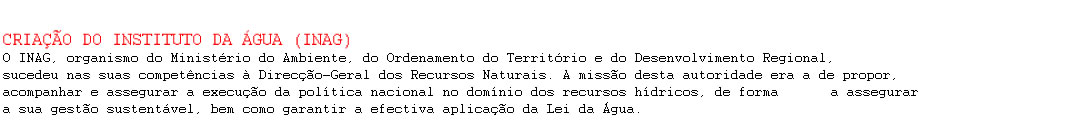 |
|||||
 |
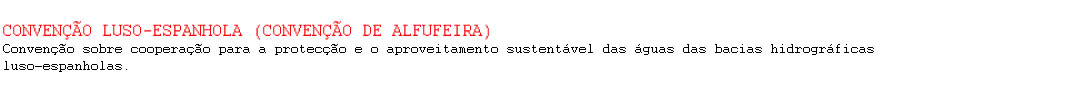 |
|||||
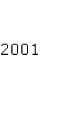 |
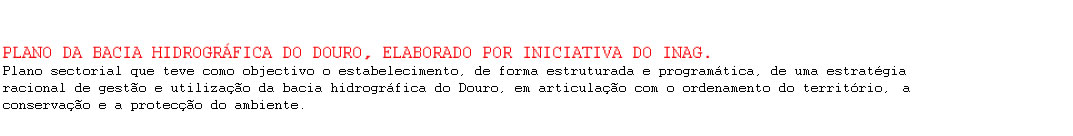 |
|||||
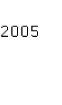 |
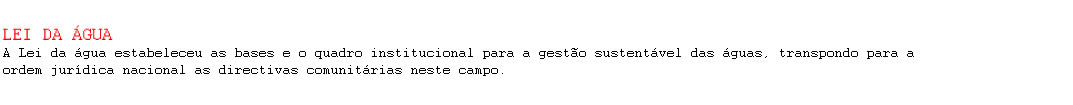 |
|||||
 |
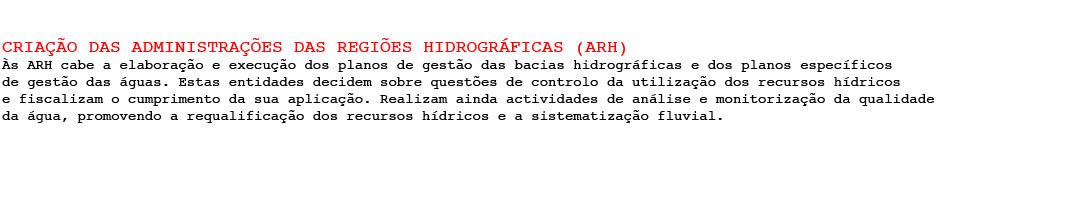 |
|||||